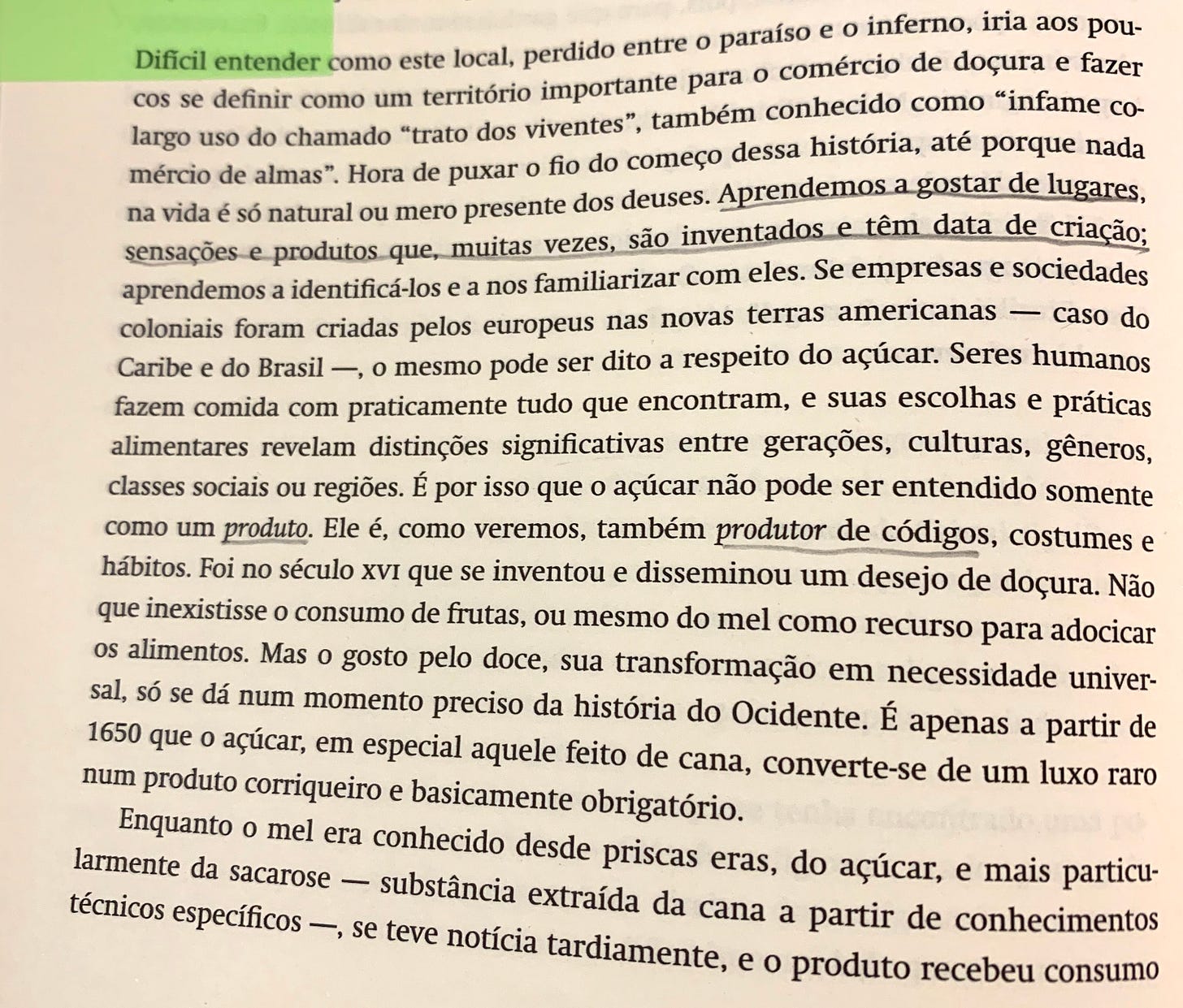oi gente, como estamos?
mais uma quarta-feira, mais uma newsletter, e chegamos ao segundo capítulo da nossa jornada. seguintche, ao todo, são 18 capítulos que compõem o livro. não sei como está sendo por aí, mas de minha parte, tem capítulos que são bem rapidinhos de ler, e outros mais demorados.
pensei em enviar mais de uma newsletters em algumas semanas. ou então, agregar em um só email o conteúdo de dois capítulos. vou testar e vamos sentindo como fica a organização, tá bem?
me deixem comentários caso vocês tenham sugestões.
se cuidem, e vamos a leitura do dia!
Uma civilização do açúcar

Engenho de açúcar, Nordeste brasileiro, 1816 - Henry Koster
o paragráfo que abre esse capítulo é um dos meus preferidos até aqui. mostra o quanto as autoras se dedicam a contar a nossa história sem perder o encantamento para as suas simbologias.
vou pedir a licença para reproduzi-lo, acho que vale a pena:
a partir daí, as autoras apresentam uma linha do tempo do consumo do açúcar nas civilizações; se até hoje a gente reclama do “vício”, a inebriante doçura marca presença em nosso paladar desde, pelo menos, 8000 a.C. foram com as Cruzadas, no entanto, que o consumo no açúcar da cana aumentou de fato.
como sabemos, a ascensão da produção açucareira foi uma estratégia do reino de Portugal para encontrar soluções econômicas para seus territórios na África e na América. as primeiras mudas de cana foram plantadas na ilha da Madeira, que logo se tornou a maior monocultura do Ocidente. com o declínio da ilha, São Tomé ganhou protagonismo e já nesse contexto a mão de obra escrava era utilizada nas plantações. não demorou para que São Tomé se tornasse um experimento das atividades futuras que tomariam lugar no Brasil: os portugueses aprenderam as lições no território africano e trouxeram na memória os aprendizados para a nova colônia americana.
a estratégia era simples. não se tinha exata dimensão do território das novas terras encontradas, mas era preciso povoar o Brasil para evitar invasões. enquanto isso, o comércio de açúcar era o must-have de qualquer elite europeia, e, juntando as peças, ficou claro que era preciso transformar a empresa colonial num sistema produtivo de fluxo constante e super lucrativo.
as primeiras mudas de cana chegaram ao Brasil com a expedição de Martim Afonso de Sousa, em 1530, e foram plantadas no litoral de São Vicente em 1532. foi Martim Afonso, ainda, que construiu o primeiro engenho no local, o Engenho do Governador (até hoje existem ruínas do lugar, que foi transformado em monumento nacional).
nessa época, contudo, o negócio do açúcar ainda enfrentava grandes dificuldades: faltava mão de obra, os senhores precisavam lidar com insurreições indígenas, ainda não haviam tantos recursos por parte da Coroa e a região era constantemente alvo de invasões estrangeiras. desse modo, apenas duas capitanias prosperaram: Pernambuco e São Vicente.
apesar dos obstáculos, não demorou para que a produção de cana se alastrasse em todo o Nordeste. em seus “anos dourados”, o Brasil foi responsável por um monopólio de produção que alcançou 350 mil arrobas. e é óbvio que tal sistema lucrativo chamou a atenção de outros estrangeiros.
entre os séculos XVI e XVII assistimos a uma série de invasões que deixaram marcas na colônia, principalmente por parte de franceses e holandeses. por pouco não tivemos a nossa verdadeira Paris dos trópicos, já que a insistência francesa era tanta que vivemos a chamada “França Equinocial” nas beiradas do Maranhão.
no caso dos holandeses, a história foi ainda mais complexa. teve todo aquele rolo entre Portugal e Espanha em relação linha suscessoría da dinastia de Avis, a tal da União Ibérica, e Portugal acabou ganhando de tabela a treta da Espanha com os holandeses e, nesse contexto, os Países Baixos acharam por bem dar o troco na nova colônia. em 1604, os holandeses iniciaram uma série de ataques à costa de Salvador. e em 1621 foi criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais com um único objetivo: ocupar as zonas de produção açucareira do Brasil e controlar a mão de obra escrava na África. foi guerra atrás de guerra.

Paisagem retratada por Frans Post
vivemos nesse período um “Brasil holandês”, principalmente em Pernambuco. na mesma época, desembarcou por aqui uma figura interessante, o conde alemão João Maurício de Nassau. ao chegar na capitania, encontrou engenhos destruídos e a população assustada pelos conflitos. foi ele o responsável por colocar ordem no lugar.
destaco, aqui, o favorecimento da entrada de artistas e intelectuais que desembarcaram em Pernambuco e influenciaram a cultura da região. a maioria das imagens do Brasil desse período foram registros de artistas vinculados ao projeto de Nassau, como o pintor Frans Post.
Uma nova lógica do açúcar
a cana passou a organizar, então, todo o sistema da colônia. cidades foram criadas, códigos de controle foram instaurados e uma nova elite passou a ser construída em torno da vida no engenho. se antes “engenho” denominava apenas as instalações que manipulavam a cana de açúcar, agora, passou a abranger toda a complexa organização açucareira.
“O que definia a nobreza no Brasil é o que ela não fazia”, escrevem as autoras. trabalho braçal? coisa de gentios. capital, domínio, autoridade, posse de escravos, dedicação à vida política, liderança sob uma parentela era o que constituía os ideais da nossa nobreza na sociedade colonial. e se, em muitos casos, os proprietários de engenhos na colônia não eram “nobres de origem”, eles aproveitavam os títulos para se imaginar como tal. as roupas, as mobílias, os cavalos, o domínio da alfabetização e a capacidade de mandar eram elementos que faziam parte da performance dessa “aristocracia”.
no livro, também acompanhamos os relatos de como casa-grande e senzala coexistiam nesse cotidiano. “Equilíbrio de antagoismos de economia e de cultura”, descreveu Gilberto Freyre. e as autoras apresentam um elemento que eu considero dos mais importantes desse capítulo: como a experiência brasileira, quando comparada com a metrópole, conviveu profundamente com várias culturas que passaram a ser reconhecidas e classificadas a partir da cor dos homens.
as distinções feitas entre os índios e negros, e dentro de seus próprios grupos, buscavam reforçar gradações culturais que demarcavam hierarquias internas, o que na prática significava em maior ou menor exclusão social.
Gentios. Aldeados. Africanos. Boçais. Ladino. Mestiços. Cabras. Mornos. Pardos. Mouros. Amarelos. Pretos. Caboclos. Carijós. Curibocas.
foram esses alguns dos termos que, na época da cana, indicavam a “cartografia” de tons e subtons que formavam a população do Brasil e, até hoje, “pessoas de cor” é um eufemismo para conceituar todo o tipo de discriminação existente.
aqui, faremos um salto e uma correlação. para quem se interessa em ler sobre o movimento negro no Brasil, sugiro buscar compreender a expressão colorismo. vou deixar indicada essa live entre a Djamila Ribeiro e Alessandra Devulsky sobre o tema.
bem resumidamente, o colorismo é um “braço” do racismo na medida em que constrói toda uma hierarquização entre as pessoas pretas, uma vez que marginaliza aquelas cuja tonalidade de pele é retinta em relação aquelas que têm a pele mais clara. ou seja, o colorismo é uma criação branca para denominar o nosso grau de preconceito entre aqueles que se afastam ou se aproximam do nosso ideal de branquitude.
e como pessoas brancas (o local que ocupo e de onde eu falo), precisamos entender os mecanismos de atuação do racismo a partir de sua nomeação. só assim teremos consciência sobre as suas expressões e poderemos agir ativamente.
voltando a sociedade da cana, faço um adendo: sempre existiu a escravidão ao longo da História do mundo. em geral, os homens colocados em situações de trabalho forçado em outras sociedades eram estrangeiros, presos e/ou perdedores de guerras.
o que inauguramos com os engenhos, de certa forma, é a ideia de uma “envidência natural da supremacia branca”, como se essa hierarquia dos senhores brancos sob os escravos negros fosse dada pela naturza. assim, a posição de diferentes grupos sociais passava a ser explicada não por motivos históricos, econômicos ou políticos, mas pelas cores de sua pele.
cenas para o próximo capítulo…
Links que você também pode gostar:
já deixei indicado diversos links que valem a pena ao longo do texto, então, tirem um minutinho para visitá-los após a leitura!
essa live entre a Lilia Schwarcz e o Pedro Pacífico, que tem um perfil sobre livros no instagram.
esse artigo (infelizmente está em inglês), do motivo pelo qual a morte de George Floyd foi a gota d’água e impulsionou protestos em todo o mundo, apesar de homens e mulheres pretos serem mortos todos os dias.
💋
bia